Na noite de 18 de Dezembro de 2004, na aldeia de Madiran, no sudoeste de França, um homem chamado Jean-Luc Josuat-Vergès vagueou pelos túneis de uma quinta de cogumelos abandonada e perdeu-se. Josuat-Vergès, que tinha 48 anos e trabalhava como zelador num centro de saúde local, tinha ficado deprimido. Deixando a sua mulher e filho de 14 anos em casa, tinha sido levado para as colinas com uma garrafa de whisky e um bolso cheio de comprimidos para dormir. Depois de conduzir o seu Land Rover para o grande túnel de entrada da quinta dos cogumelos, ele tinha clicado na sua lanterna e tropeçado no escuro.
Os túneis, que tinham sido originalmente escavados das colinas de calcário como uma mina de giz, compreendiam um labirinto de cinco milhas de comprimento de corredores cegos, passagens tortuosas, e becos sem saída. Josuat-Vergès caminhou por um corredor, virou, depois virou novamente. A sua bateria de lanterna diminuiu lentamente, depois morreu; pouco tempo depois, ao percorrer um corredor encharcado, os seus sapatos foram-lhe sugados dos pés e engolidos pela lama. Josuat-Vergès tropeçou descalço pelo labirinto, apalpando na escuridão do breu, procurando em vão a saída.
Na tarde de 21 de Janeiro de 2005, exactamente 34 dias após Josuat-Vergès ter entrado pela primeira vez nos túneis, três rapazes adolescentes locais decidiram explorar a quinta de cogumelos abandonada. A poucos passos do corredor de entrada escuro, descobriram o Land Rover vazio, com a porta do condutor ainda aberta. Os rapazes chamaram a polícia, que despachou prontamente uma equipa de busca. Após 90 minutos, numa câmara a apenas 600 pés da entrada, encontraram Josuat-Vergès. Ele estava pálido fantasmagórico, magro como um esqueleto, e tinha crescido uma barba longa e raspada – mas estava vivo.
Nos dias seguintes, quando a história da sobrevivência de Josuat-Vergès chegou aos media, ficou conhecido como le miraculé des ténèbres, “o milagre da escuridão”.”
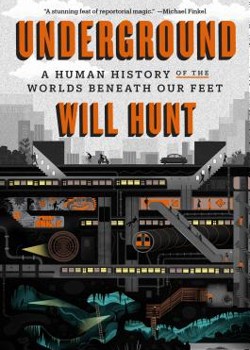
Ele regalou repórteres com histórias das suas semanas na quinta dos cogumelos, que pareciam rivalizar até mesmo com as grandes histórias de montanhistas encalhados ou vítimas de naufrágios em ilhas desertas. Comeu barro e madeira podre, que encontrou rastejando sobre todos os quatro e penhorando a lama; bebeu água que pingou do tecto de calcário, por vezes até sugando água das paredes. Quando dormia, embrulhava-se em velhas lonas de plástico deixadas para trás pelos produtores de cogumelos. A parte da história de Josuat-Vergès que confundiu os repórteres foi que ele tinha sofrido oscilações radicais e inesperadas no seu humor.
Mais Histórias
Às vezes, como seria de esperar, afundava-se em profundo desespero; de um pedaço de corda que encontrou, até fez um nó de forca, “no caso de as coisas se tornarem insuportáveis”. Mas durante outros momentos, Josuat-Vergès explicou, enquanto caminhava no escuro, que escorregaria para uma espécie de calma meditativa, permitindo que os seus pensamentos amolecessem e se dissipassem, enquanto abraçava os sentimentos de desorientação, deixando-se flutuar através dos túneis num desprendimento pacífico. Durante horas de cada vez, enquanto vagueava pelo labirinto, dizia: “Cantei para mim mesmo no escuro”
Homo sapiens sempre foram maravilhosos navegadores. Possuímos um órgão poderoso na região primitiva do nosso cérebro chamado hipocampo, onde, cada vez que damos um passo, um milhão de neurónios recolhem dados sobre a nossa localização, compilando o que os neurocientistas chamam um “mapa cognitivo”, que nos mantém sempre orientados no espaço. Este robusto aparelho, que ultrapassa de longe as nossas necessidades modernas, é um aparelho de mão-baixo dos nossos antepassados caçadores-colectores nómadas, cuja própria sobrevivência dependia dos poderes de navegação. Durante centenas de milhares de anos, a incapacidade de localizar um charco ou um abrigo de rochas seguro, ou de seguir manadas de caça e localizar plantas comestíveis, levaria à morte certa. Sem a capacidade de nos guiarmos por paisagens desconhecidas, a nossa espécie não teria sobrevivido – é intrínseca à nossa humanidade.
p>Ler: Quando o cérebro não consegue fazer os seus próprios mapas
não é surpresa, então, que quando perdemos a nossa orientação, sejamos lançados num pânico primordial, amargo na boca. Muitos dos nossos receios mais elementares – sermos separados dos entes queridos, desenraizados de casa, deixados de fora nas escuras permutações do pavor de estar perdidos. Nos nossos contos de fadas, é quando a bela donzela se desorienta na floresta sombria que ela é acossada pelo troll ameaçador ou pela crona encapuzada. Até o inferno é frequentemente retratado como um labirinto, voltando a Milton, que fez a comparação no Paraíso Perdido. A história arquetípica de horror da desorientação é o mito grego do Minotauro, que habita nas dobras sinuosas do Labirinto de Knossos, uma estrutura, como escreveu Ovid, “construída para disseminar a incerteza”, para deixar o visitante “sem um ponto de referência”
tão profundamente enraizado é o nosso pavor de desorientação que ficar perdido pode desencadear uma espécie de rachadura, onde o nosso próprio sentido de si se desmorona pelas costuras. “Para um homem totalmente inabitual”, escreveu Theodore Roosevelt no seu livro Ranch Life and the Hunting Trail de 1888, “a sensação de estar perdido no deserto parece levá-lo a um estado de terror de pânico que é assustador de se ver, e que no final o deixa sem razão… Se não for encontrado em três ou quatro dias, está muito apto a tornar-se louco; depois fugirá dos resgatadores, e deve ser perseguido e capturado como se fosse um animal selvagem.”
Desde o nosso primeiro passo na escuridão subterrânea, o nosso hipocampo, que tão fiavelmente nos guia através do mundo de superfície, vai à fritz, como um rádio que perdeu a recepção. Estamos isolados da orientação das estrelas, do sol e da lua. Mesmo o horizonte desaparece – se não fosse a gravidade, dificilmente saberíamos subir de baixo para cima. Todas as pistas subtis que nos poderiam orientar nas formações de nuvens superficiais, padrões de crescimento de plantas, rastos de animais, direcção do vento – desaparecem. No subsolo, perdemos até o guia da nossa própria sombra.
Down numa passagem apertada da caverna, ou nas pregas delimitadas de uma catacumba, o nosso campo de visão é piscado, nunca ultrapassando a próxima torção ou dobra. Como observou o historiador das cavernas William White, nunca se vê realmente uma caverna inteira, apenas uma lasca de cada vez. Quando navegamos numa paisagem, escreveu Rebecca Solnit em A Field Guide to Getting Lost, estamos a ler o nosso ambiente como um texto, estudando “a linguagem da própria terra”; o subsolo é uma página em branco, ou uma página rabiscada com uma linguagem que não conseguimos decifrar.
Leitura: Terra incognita
Não que seja ilegível para todos. Certas criaturas de habitação subterrânea estão maravilhosamente adaptadas para navegar através da escuridão. Todos conhecemos o morcego, que atravessa a escuridão das cavernas usando sonar e ecolocalização, mas o navegador subterrâneo campeão pode ser o rato toupeira cego: uma criatura cor-de-rosa, enrugada e com dentes de fivela – imagina um polegar de 90 anos com presas – que passa os seus dias em vastos e labirínticos ninhos subterrâneos. Para navegar nestas passagens escuras, a ratazana toupeira cega bate periodicamente com a cabeça contra o chão, depois descobre a forma do espaço de acordo com os padrões das vibrações de retorno. No seu cérebro, o rato tem mesmo um minúsculo depósito de ferro, uma bússola incorporada, que detecta o campo magnético da Terra. A selecção natural não nos dotou de tais truques adaptativos. Para nós, um passo no subsolo é sempre um passo para um vácuo de navegação, um passo na direcção errada, ou melhor, nenhuma direcção.
Em qualquer outra paisagem, quando os nossos poderes inatos de navegação vacilam, voltamo-nos para um mapa, que nos ancora no espaço, e nos mantém na rota. No mundo subterrâneo, porém, a cartografia tem sido sempre um esforço singularmente desconcertante. Muito tempo depois de exploradores e cartógrafos traçarem todas as outras paisagens terrestres do planeta, traçando linhas latitudinais e longitudinais sobre arquipélagos e cadeias de montanhas remotas, os espaços directamente sob os nossos pés permaneceram esquivos.
O mais antigo mapa conhecido de uma caverna foi desenhado em 1665 da Caverna de Baumann, uma grande caverna na região densamente florestada de Harz, na Alemanha. A julgar pelas linhas rudimentares do mapa, o cartógrafo, um homem identificado como Von Alvensleben, não parece ter sido um cartógrafo especializado, ou mesmo capaz, mas as deficiências do mapa são, no entanto, notáveis. O explorador falhou em transmitir qualquer sentido de perspectiva, ou profundidade, ou qualquer outra dimensão – falhou em comunicar mesmo que o espaço é subterrâneo. Von Alvensleben estava a tentar mapear um espaço que estava neurologicamente mal-equipado para ver, um espaço literalmente para além da sua percepção. Chegou ao ponto de uma loucura epistemológica, como tentar pintar um retrato de um fantasma, ou apanhar uma nuvem numa rede.
O mapa da Caverna de Baumann foi o primeiro de uma longa linhagem de curiosos fracassos da cartografia subterrânea. Durante gerações, exploradores de toda a Europa – equipas de cavernas de homens sem medo e quixotescas, com a intenção de medir o mundo subterrâneo, de se orientarem no escuro, apenas para falharem, muitas vezes de forma desconcertante. Em cordas desgastadas, baixaram-se no subsolo profundo, onde vaguearam durante horas, trepando por cima de pedregulhos e nadando por rios subterrâneos. Guiaram o seu caminho com velas de cera, que emitiam fracas coroas de luz que não se estendiam mais do que alguns metros em qualquer direcção. Os agrimensores recorreram frequentemente a medidas absurdas, tais como um explorador austríaco chamado Joseph Nagel que, numa tentativa de iluminar uma câmara da caverna, amarrou uma plataforma de velas aos pés de dois gansos, depois atirou seixos aos gansos, na esperança de que estes voassem e lançassem a sua luz através da escuridão. (Não funcionou: os gansos balançaram lamechas e tombaram em direcção à terra)
Even quando conseguiram fazer medições, entretanto, a percepção espacial dos exploradores era tão distorcida pelos caprichos do ambiente que os seus achados estariam muito fora do comum. Numa expedição de 1672 na Eslovénia, por exemplo, um explorador encanou uma passagem de caverna sinuosa e registou a sua extensão a seis milhas, quando na realidade, tinha viajado apenas um quarto de milha. Os levantamentos e mapas que emergiram destas primeiras expedições eram frequentemente tão divergentes da realidade que algumas cavernas são agora efectivamente irreconhecíveis. Hoje, só podemos ler os antigos relatórios como pequenos poemas misteriosos sobre lugares imaginários.
p>O mais conhecido dos primeiros cartógrafos de cavernas foi um francês de finais do século XIX chamado Edouard-Alfred Martel, que ficaria conhecido como o pai da espeleologia. Ao longo de uma carreira de cinco décadas, Martel liderou cerca de 1.500 expedições em 15 países de todo o mundo, centenas delas em cavernas virgens. Advogado por profissão, passou os seus primeiros anos a fazer rapel subterrâneo com mangas de camisa e um boné de bowler, antes de finalmente conceber um kit de equipamento especializado em espeleologia. Para além de um barco de lona dobrável apelidado de Jacaré, e um telefone de campo volumoso para comunicar com carregadores à superfície, concebeu uma bateria de instrumentos de levantamento subterrâneo. Por exemplo, inventou uma engenhoca para medir o chão da caverna até ao tecto, na qual prendeu uma esponja embebida em álcool a um balão de papel sobre um fio comprido, e depois colocou um fósforo na esponja, fazendo com que o balão subisse até ao tecto enquanto desenrolava o fio. Os mapas de Martel podem ter sido mais precisos do que os dos seus antecessores, mas comparados com os mapas elaborados por exploradores de qualquer outra paisagem na altura, não eram mais do que esboços. Martel foi celebrado pela sua inovação cartográfica de dividir uma caverna em secções transversais distintas (ou coupes), que se tornariam o padrão na cartografia de cavernas.
Leia: Como os mapas digitais mudaram o que significa estar perdido
Martel e os seus companheiros exploradores, que passaram anos a tentar e a não se orientar no mundo subterrâneo, eram discípulos da perda. Ninguém conhecia tão intimamente a experiência sensorial da desorientação: Durante horas a fio, flutuavam no escuro, apanhados num prolongado estado de vertigem, enquanto tentavam e não conseguiam ancorar-se. De acordo com toda a lógica evolutiva, onde as nossas mentes estão interligadas para evitar a todo o custo a desorientação, onde a perda activa os nossos receptores de medo mais primitivos, eles devem ter experimentado uma profunda ansiedade: “o terror do pânico que é assustador de se ver”, como Roosevelt o descreveu. E no entanto, eles foram-se afundando vezes sem conta.
Devem uma forma de poder, ao que parece, de se perderem no escuro.
A perda sempre foi um estado enigmático e multifacetado, sempre cheio de potencialidades inesperadas. Ao longo da história, todas as variedades de artistas, filósofos e cientistas celebraram a desorientação como motor de descoberta e criatividade, tanto no sentido de se afastarem de um caminho físico, como de se desviarem do familiar, voltando-se para o desconhecido.
Para fazer arte de grande porte, disse John Keats, é preciso abraçar a desorientação e afastar-se da certeza. Ele chamou a esta “capacidade negativa”: “isto é, quando um homem é capaz de estar em incertezas, mistérios, dúvidas, sem qualquer alcance irritável depois dos factos e da razão”. Thoreau também descreveu a perda como uma porta para compreender o seu lugar no mundo: “Não até estarmos completamente perdidos, ou virados”, escreveu ele, “apreciamos a vastidão e estranheza da natureza … Não até estarmos perdidos, por outras palavras, não até termos perdido o mundo, começamos a encontrar-nos, e a perceber onde estamos e a extensão infinita das nossas relações”. Tudo isto faz sentido, neurologicamente falando: Quando estamos perdidos, afinal de contas, o nosso cérebro está no seu máximo aberto e absorvente.
Num estado de desorientação, os neurónios do nosso hipocampo estão a absorver freneticamente cada som, cheiro e visão do nosso ambiente, a lutar por qualquer filamento de dados que nos ajude a recuperar o nosso rumo. Mesmo quando nos sentimos ansiosos, a nossa imaginação torna-se prodigiosamente activa, conjurando imagens ornamentadas do nosso ambiente. Quando damos uma volta errada na floresta e perdemos de vista o trilho, a nossa mente percebe cada estalido de galho ou ferrugem de folha como a chegada de um urso negro ornamental, ou de um bando de javalis, ou de um condenado no lamaçal. Tal como os nossos alunos se dilatam numa noite escura para receber mais fotões de luz, quando estamos perdidos, a nossa mente abre-se mais completamente para o mundo.
No final dos anos 90, uma equipa de neurocientistas localizou o poder da desorientação nas armadilhas físicas do nosso cérebro. Num laboratório da Universidade da Pensilvânia, realizaram experiências em monges budistas e freiras franciscanas, onde fizeram um scan aos seus cérebros durante a meditação e a oração. Imediatamente, notaram um padrão: Num estado de oração, uma pequena região perto da frente do cérebro, o lóbulo parietal superior posterior, mostrou um declínio na actividade. Este lóbulo particular, ao que parece, trabalha de perto com o hipocampo nos processos de navegação cognitiva. Até onde os investigadores puderam ver, a experiência da comunhão espiritual foi intrinsecamente acompanhada pelo entorpecimento da percepção espacial.
Não deve ser surpresa, então, que os antropólogos tenham rastreado uma espécie de culto à perda que percorre os rituais religiosos do mundo. O estudioso britânico Victor Turner observou que qualquer rito sagrado de iniciação prossegue em três fases: separação (o iniciado parte da sociedade, deixando para trás o seu antigo estatuto social), transição (o iniciado está no meio da passagem de um estatuto para o seguinte), e incorporação (o iniciado regressa à sociedade com um novo estatuto). O pivot ocorre na fase intermédia, a que Turner chamou a fase da liminaridade, a partir do latim limin, que significa “limiar”. No estado liminar, “a própria estrutura da sociedade é temporariamente suspensa”: Flutuamos em ambiguidade e evanescência, onde não somos nem uma identidade nem a outra, nem mais longa, mas ainda não. O último catalisador da liminaridade, escreve Turner, é a desorientação.
p>entre muitos rituais de perda praticados por culturas de todo o mundo, um particularmente pungente é observado pelos nativos americanos do Pit River na Califórnia, onde, de tempos a tempos, um membro da tribo “vai vagueando”. Segundo o antropólogo Jaime de Angulo, “o vagabundo, homem ou mulher, acampamentos e aldeias, permanece em lugares selvagens e solitários, nos cumes das montanhas, nos fundos dos desfiladeiros”. No acto de se render à desorientação, diz a tribo, o vagabundo “perdeu a sua sombra”. É um esforço mercurial de andar errante, uma prática que pode resultar em desespero irremediável, ou mesmo em loucura, mas que também pode trazer grande poder, à medida que o errante emerge da perda com um chamamento sagrado, antes de regressar à tribo como xamã.
O veículo mais omnipresente da perda ritual – a encarnação mais básica da desorientação – é o labirinto. Encontramos estruturas labirínticas em todos os cantos do mundo, desde as colinas do País de Gales até às ilhas da Rússia oriental e aos campos do sul da Índia. Um labirinto funciona como uma espécie de máquina de liminaridade, uma estrutura concebida para engendrar uma experiência concentrada de desorientação. Ao entrarmos nas passagens sinuosas de pedra, e ao virarmos o nosso foco para o caminho delimitado, desligamo-nos da geografia externa, deslizando para uma espécie de hipnose espacial, onde todos os pontos de referência se afastam. Neste estado, estamos preparados para sofrer uma transformação, onde passamos entre estatutos sociais, fases da vida, ou estados psíquicos. No Afeganistão, por exemplo, os labirintos eram o centro dos rituais matrimoniais, onde um casal solidificaria a sua união no acto de navegar pelo caminho da pedra tortuosa. As estruturas labirínticas no Sudeste Asiático, entretanto, eram utilizadas como instrumentos de meditação, onde os visitantes caminhavam lentamente ao longo do trilho para aprofundar o seu foco interior. De facto, o conto arquetípico de Theseus a matar o Minotauro em Creta é, em última análise, uma história de transformação: Theseus entra no labirinto como um rapaz e emerge um homem e um herói.
p>Leia: O reavivamento do labirinto
Na sua encarnação moderna, a maioria dos labirintos são bidimensionais, as suas passagens delimitadas por baixas pilhas de pedras ou padrões de mosaico ladrilhados num chão. Mas à medida que traçamos a linhagem do labirinto mais profundamente no passado, procurando encarnações cada vez mais antigas, encontramos as paredes a subir lentamente, as passagens a tornarem-se mais escuras e mais imersivas, os primeiros labirintos eram quase sempre estruturas subterrâneas. Os antigos egípcios, segundo Heródoto, construíram um vasto labirinto subterrâneo, como o fizeram os etruscos no norte de Itália. A cultura pré-incaica de Chavín construiu um enorme labirinto subterrâneo no alto dos Andes peruanos, onde realizavam rituais sagrados em túneis escuros e sinuosos; os antigos maias faziam o mesmo num labirinto escuro na cidade de Oxkintok, no Yucatán. Entretanto, no Deserto Sonorano do Arizona, a tribo Tohono O’odham há muito que venera um deus chamado I’itoi, também conhecido como o Homem do Labirinto, que habita no coração de um labirinto. Diz-se que a abertura do labirinto do I’itoi, um desenho frequentemente tecido nos cestos tradicionais da tribo, é a boca de uma caverna.
Quando Jean-Luc Josuat-Vergès entrou nos túneis da quinta dos cogumelos em Madiran com o seu uísque e comprimidos para dormir, ele tinha tido noções de suicídio. “Eu estava baixo, com pensamentos muito sombrios”, foi a forma como ele o disse. Depois de ter saído do labirinto, descobriu que tinha recuperado a sua compra na vida. Voltou a juntar-se à sua família, onde se viu mais feliz e mais à vontade. Começou a frequentar a escola nocturna, ganhou um segundo grau, e encontrou um emprego melhor numa cidade no cimo da estrada. Quando questionado sobre a sua transformação, disse aos repórteres que enquanto estava no escuro, “um instinto de sobrevivência” tinha entrado em acção, renovando a sua vontade de viver. No seu momento mais sombrio, quando precisava desesperadamente de transformar a sua vida, viajou para a escuridão, rendeu-se à desorientação, preparando-se para emergir de novo.
Este post é adaptado do novo livro de Hunt, Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet.